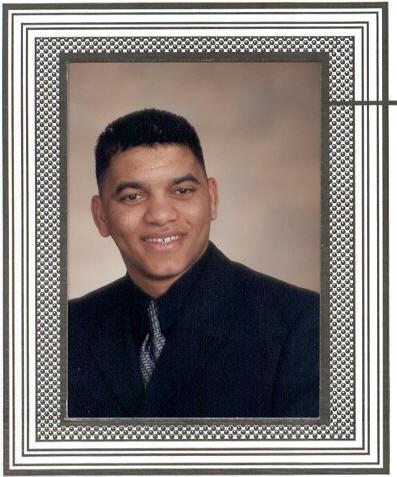Friday, January 17, 2025
Sunday, April 01, 2012
Carta Aberta ao Senhor Embaixador de Portugal na República de Cabo Verde

Abel Djassi Amado
Boston, Estados Unidos da América
Boston, 30 de Março de 2012
Embaixador Bernardo Homem de Lucena
Embaixada da República Portuguesa em Cabo Verde
Avenida OUA Achada de Santo António
Cidade da Praia - CP 160
Senhor Embaixador,
Antes de mais nada, aceite a Vossa Excelência as minhas mais cordiais saudações caboverdianas.
Escrevo à Vossa Excelência para mostrar o meu desagrado, dado ter verificado uma situação que considero tanto quanto desrespeitora involvendo a Sua Excelência. Na qualidade de representante supremo de Portugal nas ilhas de Cabo Verde, é do interesse da Sua Excelência fazer valer as atitudes que mais honram e enobrecem o país da Sua Excelência como o meu. Isso tendo em conta que laços fortes e históricos existem entre Cabo Verde e Portugal.
A foto (abaixo) foi extraída da página do facebook da Presidência da República de Cabo Verde. Como deve a Vossa Excelência lembrar, ela foi tirada no âmbito do II Fórum Internacional sobre Segurança Pública, promovida pela Câmara Municipal da Praia, no dia 19 de Março. O fotógrafo quis reproduzir a audiência no momento da entrada do Presidente da República (PR) de Cabo Verde para dar início ao dito fórum. As boas maneiras e prácticas protocolares indicam que a audiência deve-se levantar e manter-se erguida perante a entrada do representante máximo de um país. Para o meu espanto e choque, ao passo que a audiência toda se levantou prestando respeito e cortesia à figura máxima do país, a Vossa Excelência (e um outro dignatário como se pode ver na foto) preferiu manter-se sentado.
O PR é a figura basilar do nosso sistema político—e, ipso facto, das nossas comunidades social e política. A nossa Constituição considera o orgão por ele liderado como um dos orgão da soberania. Quer isto dizer que a instituição presidencial é a simplicação jurídica, política e até identitária do povo caboverdiano. É o garante da ordem legal e constitucional, e, assim sendo, acaba por constituir-se num elemento central no processo diário e quase sempre súbtil de construção identitária nacional—na lógica daquilo que Billig chama de “nacionalismo banal,” ou seja, a maneira como símbolos nacionais invadem o nosso inconsciente, reforçando a nossa consciência de pertença à nação. Por outras palavras, o PR, o homem em si (ou mulher se for o caso), é a multidão caboverdiana, residente e diaspórica, abreviada num corpo.
Por tudo aquilo dito no parágrafo anterior, o PR é sempre uma re-presentação do povo caboverdiano na sua totalidade. A sua presença em si acarreia os “impresenciáveis” que é a comunidade nacional in toto. O respeito para com o PR ultrapassa o homem em si. É o respeito à instituição e vis-à-vis à comunidade social a que ele simboliza. A foto descreve uma flagrante quebra protocolar. Ou, poderia dizer—quiça um pouco encarecido—que a foto reproduz um total e arrogante desrespeito ao PR, e, ipso facto, ao povo caboverdiano.
Perante tal situação, a presente missiva não passa mais do que um “demarche” (não institutional claro, visto que as instituições competentes nacionais ficaram por exercer tal prerogativa diplomática). Espera-se, no futuro, uma atitude mais decorosa e honrosa pela parte da Vossa Excelência para com o povo das ilhas, uma vez que o respeito é um caminho de dois sentidos.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, Senhor Embaixador, os protestos da minha muita consideração
Abel Djassi Amado
Caboverdiano residente na cidade de Boston (EUA)
P.S. A carta foi também enviada às seguintes instituições:
• MIREX Cabo Verde
• MNE Portugal (secgeral@mne.pt Secretaria Geral)
• Embaixada Portugal CaboVerde (embport@cvtelecom.cv – Chancelaria)
• Páginas de Facebook: Presidencia Republica Cabo Verde; Primeiro Ministro CV; Primeiro Ministro Portugal
P.P.S. A foto poderá ser vista na página: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=358293767542660&set=a.358292774209426.79904.296856450353059&type=3&theater
Wednesday, March 28, 2012
E os outros "Bastas!"?

Pronunciou-se o “Basta!” Expressou-se a repúdia às escolhas verbais de um jornal online (ou um “panfleto” no dizer dos lesados). Do cume vieram as palavras sábias e sensatas, acolhidas pelos acólitos como uma dádiva suprema. O “Basta!” é o ultimatum mobilizante dos sectários. É o código de activação da infantaria de reserva. É o grito de guerra e, assim, as faces pintam-se. “Contra os canhões [do Liberal—e outros “Liberais”?], marchar, marchar, marchar…”
Supostamente, é um “Basta!” que intenta, projecta e deligencia destruir para melhor construir, limitar para melhor expandir, contrair para aumentar… Conjetura-se, assim, a novus ordo: afinal o “Basta!” é um “critical juncture,” um ponto de ruptura entre as prácticas lesivas e supletivas ao bom nome. A nova ordem é a de co-existência verbal pacífica. Para o contentor do passado, a violência verbal…
Mas que nao se fique por aqui. E os outros “Bastas!”? Para quando? Para quando o “Basta!” da violência estructural e simbólica que vitimizam um número crescente dos caboverdianos? Para quando o “Basta!” do abuso da coisa pública, principalmente o “Basta!” no uso indevido das viaturas públicas? E, já agora que estamos na onda de “Basta!”, porque não extendê-lo à má-gestão no aparelho do Estado e nas empresas públicas, ao recrutamento nepotista, aos negócios nebulosos, ao anti-patriotismo consumista instrumentalizante do Estado enquanto pagador de contas, etc, etc (a lista é mesmo enorme…). Agora que o “Basta!” já foi declarado, espera-se assim que não tão cedo se ouve um “Basta!” ao “Basta!”
Por hoje “Basta!”
Tuesday, March 20, 2012
A falácia da Língua Caboverdiana enquanto língua de comunicação local
A falácia da Língua Caboverdiana enquanto língua de comunicação local
Tenho escrito algures: a questão da lingua em Cabo Verde constitui, em si mesma, a montanha que todos os caboverdianos, mais cedo ou tarde, terão que escalar. Preferencialmente mais cedo do que tarde, para mais cedo encontrar uma solução àquela questão. Nos últimos dez anos, muitos falaram sobre a necessidade da oficialização da língua caboverdiana (LCV). Contra estas vozes, argumentos de vários calibres têm sido construídos. Este pequeno texto procura descontruir um dos pilares argumentativos criados por aqueles que considerem inútil e inoportuno tornar a LCV um dos politolectos (lingua do Estado) do país.
Supostamente, segue tal argumento, a LCV não constituí aquilo que Fishman denomina de language of wider communication (qualquer coisa como lingua de comunicacao mais ampla). Pelo contrário, a LCV é tida como uma lingua essencialmente local e confinado às ilhas do Atlântico (esquecendo, convenientemente, as várias comunidades caboverdianas espalhadas pelo mundo atlântico) e à informalidade. A LCV, assim continua o argumento, é limitada por não ser uma língua de comunicação internacional. Por outras palavras, a crescente inserção das ilhas no contexto global sofreria um duro e (alguns diriam até irrecuperável) golpe caso fosse oficializada a LCV. Um retrocesso terrivel, alguns diriam. Tal argumento, como que um camaleão, tem-se revistido de novas cores adaptativas à situação e à época em que é pronunciado. Mas no fundo, o essencial é o mesmo: a LCV é fundamentalmente uma língua doméstica e estar-se-á a perder tempo/recursos em fazer daquela língua uma língua do Estado.
Primeiro é preciso recordar que a LCV tem sido um poderoso medium de comunicação transnacional—ainda que, no entanto, nao é uma língua internacional. A diferença entre o transnacional e o internacional tem mais a ver com os actores envolvidos: as relacções que não envolvem os Estados ou organizações por estes criados constituem relações transnacionais. Fala-se de relações internacionais quando um dos actores ou é um Estado ou é uma organização inter-governamental.
Pode-se falar de uma ethnoscape caboverdiana (emprestando de Appadurai) para referir à distribuicao transnacional do povo caboverdiano. Ainda que reduzido na dimensão numérica, pode-se muito argumentar que o Mundo Atlântico é o habitat do caboverdiano. Desde o norte a sul do continente Americano, passando à Europa ocidental, e, naturalmente que não se pode esquecer do nosso continente, a presença caboverdiana é nítida. E é neste espaço que a LCV tem assumido um papel de relevo cada vez maior.
Enquanto lingua transnacional, a LCV tem sido um medium de dois canais comunicativos. Primeiro, a LCV é o medium da comunicao diaspórica—tida como fluxo de mensagens, saudades, e mantenhas, entre o país de origem e o país de recepção. No quadro da comunicação diaspórica, pode-se ainda criar dois sub-categorias distinctas, Por um lado, existe o que se pode ser chamado de comunicação diaspórica primária (ou vertical--no sentido de existir uma hierarquia emocional em que o país de origem assume o topo da relação). Tal constitui um processo de transmissão e recepção de ideias (e, em particular, aquilo que é chamado de remessas sociais), sentimentos e experiências entre os caboverdianos nas ilhas e os espalhados pelo mundo afora. Um diálogo entre um caboverdiano residente na Ilha Brava e um outro residente na cidade de Pawtucket, Estados Unidos, é um exemplo da comunicação diaspórica vertical ou primária.
Por outro lado, existe também a que pode ser chamada de comunicação diaspórica horizontal/secundária. Isto tem a ver com qualquer acto comunicativo exercido por dois ou mais membros da comunidade diaspórica caboverdiana residentes em dois países diferentes. Exempli gratia, um diálogo entre uma caboverdiana da cidade de Lisboa com uma caboverdiana residente em Luanda.
Até bem pouco tempo atrás as comunicações diaspóricas dividiam-se em dois grandes campos distinctos em função da esfera de cada língua usada: quando orais (de boca-em-boca, como nas mantenhas ou através de telefone) a lingua a ser usada era a LCV. E, por outro lado, quando escrita (telegramas ou cartas pessoais) era quase o domínio reservado da lingua portuguesa. As modernas tecnologias de informação fizeram aquela distincao dos dominios de linguas fútil. Basta seguir com atencao a um diálogo numa sala de chat entre dois caboverdianos (seja em termos de uma comunicacao diaspórica primária ou secundária) para constatar que cada vez mais usa-se a LCV como medium de mensagem.
O segundo canal da utilizacao da LCV à nivel transnacional tem a ver com as relações que envolvem as ONG internationais ou mesmo agências autónomas de Estados estrangeiros e as populações em Cabo Verde. Em parte equipado por uma nova mentalidade de cooperacao internacional, as grandes NGO internacionais cada vez mais asseguram um lugar de destaque ao chamado saber local no contexto dos projectos a serem assistidos e/ou em cooperação. A aldeia, o bairro, a vizinhança e, raramente, a vila ou cidade tem sido cada vez mais o foco da acção cooperativa transnacional. E os parceiros internacionais têm assumido (correctamente, penso) que os melhores avaliadores dos projectos são os que supostamente irão beneficiar dos mesmos. Assim sendo, é natural a inclusão de inputs dos locais na criação e implementação dos ditos projectos—através do saber local. Sendo que o saber local tem sido criado e difundido através da língua materna a consequência lógica deste processo é a inclusão da língua materna como factor de desenvolvimento. Por este motivo, um número crescente de NGO internacionais concedem formação linguistica aos seus voluntários e quadros em linguas maternas dos paises onde estes irao actuar (programa semelhante é o caso do Corpo da Paz, ainda que nao sendo uma NGO, parte do principio de uma colaboração efectiva e afectiva entreo cooperante e as populacoes locais). Um grande número de falantes da CVL não-nativos constituem aqueles antigos e actuais voluntários de várias NGO internacionais que têm trabalhado com as populações em Cabo Verde.
No entanto, ainda que um medium comunicativo transnacional em crescente uso, a LCV está longe de ser uma língua internacional (isto é, uma língua usada como medium de comunicação oficial e oficiosa entre os Estados e os organismos por estes criados). Talvez nunca venha a ser uma língua internacional. Mas, para que algum dia passe a ser uma lingua internacional terá que primeiro ser uma lingua de um Estado (e nao simplesmente só uma lingua de uma nacao—por outras palavras, tem de verifcar-se um planeamento quanto ao status da lingua).
Tenho lido algures o argument de que o mundo globalizado, como mundo de constante e instantâneo fluxo de ideias, mercadorias, valores monetários, entre outros, é um mundo altamente competitivo. Maior a globalização, maior também são as forças sociais de busca aos raízes identificativos. Ao mesmo tempo, a globalização tecnológica, ou aquilo que Appadurai prefere chamar de technoscape, garante espaços de avanços a micro-culturas e prácticas e línguas locais. Basta ver, por exemplo, como a internet tem sido um verdadeiro sítio de revivência de línguas consideradas em perigo. Mais ainda, as mais avançadas tecnologias de informação facilitam o uso de muitas linguas que há uma década atrás eram consideradas como essencilamente locais. O google translate, por exemplo, permite a tradução quase que instantânea entre línguas como o irlandês (que segundo os dados do Ethnologue tem não mais de que 300,000 falantes) ou a língua basca (que a mesma fonte considera ter cerca de 580,000 falantes).
As traduções da google translate estão longe da perfeição. Mas quem já é habituado a fazer traduções online poderá constatar o avanço desta tecnologia em relação às precendentes (por exemplo, a babel translation). Dito isso, e sabendo que a lógica do capitalismo global força as empresas a procurar novos mercados, sob o risco de serem absorvidos pela concorrência, penso que é uma questão de tempo para vermos outras línguas adicionadas ao google translate (ou um outro despositivo criado por alguma empresa concorrente à google). A troco de exemplo, é de recordar aqui que já existe um google Cabo Verde (www.google.cv). Uma futura inclusão da LCV na lista da goodle translate dependerá somente dos caboverdianos—e, aí, o processo de internacionalização da nossa língua tornar-se-a mais fácil.
P.S. A defesa da LCV em condição nenhuma deve ser entendida como um ataque a língua portuguesa, a outra língua de bastante uso e história nas ilhas. Sempre defendi multi-lingualismo e, daí opor à qualquer práctica e/ou idea limitativa. Penso que a oficialização da língua permitirá um salto quantum da LCV, aumentando consideravelmente a esfera da sua actuação assim como da sua funcionalidade (e, pode-se até argumentar, melhor o entendimento da língua portuguesa—um conhecimento real das duas línguas parte do princípio da compreensão da “fronteira linguística” entre aquelas duas línguas)
Tenho escrito algures: a questão da lingua em Cabo Verde constitui, em si mesma, a montanha que todos os caboverdianos, mais cedo ou tarde, terão que escalar. Preferencialmente mais cedo do que tarde, para mais cedo encontrar uma solução àquela questão. Nos últimos dez anos, muitos falaram sobre a necessidade da oficialização da língua caboverdiana (LCV). Contra estas vozes, argumentos de vários calibres têm sido construídos. Este pequeno texto procura descontruir um dos pilares argumentativos criados por aqueles que considerem inútil e inoportuno tornar a LCV um dos politolectos (lingua do Estado) do país.
Supostamente, segue tal argumento, a LCV não constituí aquilo que Fishman denomina de language of wider communication (qualquer coisa como lingua de comunicacao mais ampla). Pelo contrário, a LCV é tida como uma lingua essencialmente local e confinado às ilhas do Atlântico (esquecendo, convenientemente, as várias comunidades caboverdianas espalhadas pelo mundo atlântico) e à informalidade. A LCV, assim continua o argumento, é limitada por não ser uma língua de comunicação internacional. Por outras palavras, a crescente inserção das ilhas no contexto global sofreria um duro e (alguns diriam até irrecuperável) golpe caso fosse oficializada a LCV. Um retrocesso terrivel, alguns diriam. Tal argumento, como que um camaleão, tem-se revistido de novas cores adaptativas à situação e à época em que é pronunciado. Mas no fundo, o essencial é o mesmo: a LCV é fundamentalmente uma língua doméstica e estar-se-á a perder tempo/recursos em fazer daquela língua uma língua do Estado.
Primeiro é preciso recordar que a LCV tem sido um poderoso medium de comunicação transnacional—ainda que, no entanto, nao é uma língua internacional. A diferença entre o transnacional e o internacional tem mais a ver com os actores envolvidos: as relacções que não envolvem os Estados ou organizações por estes criados constituem relações transnacionais. Fala-se de relações internacionais quando um dos actores ou é um Estado ou é uma organização inter-governamental.
Pode-se falar de uma ethnoscape caboverdiana (emprestando de Appadurai) para referir à distribuicao transnacional do povo caboverdiano. Ainda que reduzido na dimensão numérica, pode-se muito argumentar que o Mundo Atlântico é o habitat do caboverdiano. Desde o norte a sul do continente Americano, passando à Europa ocidental, e, naturalmente que não se pode esquecer do nosso continente, a presença caboverdiana é nítida. E é neste espaço que a LCV tem assumido um papel de relevo cada vez maior.
Enquanto lingua transnacional, a LCV tem sido um medium de dois canais comunicativos. Primeiro, a LCV é o medium da comunicao diaspórica—tida como fluxo de mensagens, saudades, e mantenhas, entre o país de origem e o país de recepção. No quadro da comunicação diaspórica, pode-se ainda criar dois sub-categorias distinctas, Por um lado, existe o que se pode ser chamado de comunicação diaspórica primária (ou vertical--no sentido de existir uma hierarquia emocional em que o país de origem assume o topo da relação). Tal constitui um processo de transmissão e recepção de ideias (e, em particular, aquilo que é chamado de remessas sociais), sentimentos e experiências entre os caboverdianos nas ilhas e os espalhados pelo mundo afora. Um diálogo entre um caboverdiano residente na Ilha Brava e um outro residente na cidade de Pawtucket, Estados Unidos, é um exemplo da comunicação diaspórica vertical ou primária.
Por outro lado, existe também a que pode ser chamada de comunicação diaspórica horizontal/secundária. Isto tem a ver com qualquer acto comunicativo exercido por dois ou mais membros da comunidade diaspórica caboverdiana residentes em dois países diferentes. Exempli gratia, um diálogo entre uma caboverdiana da cidade de Lisboa com uma caboverdiana residente em Luanda.
Até bem pouco tempo atrás as comunicações diaspóricas dividiam-se em dois grandes campos distinctos em função da esfera de cada língua usada: quando orais (de boca-em-boca, como nas mantenhas ou através de telefone) a lingua a ser usada era a LCV. E, por outro lado, quando escrita (telegramas ou cartas pessoais) era quase o domínio reservado da lingua portuguesa. As modernas tecnologias de informação fizeram aquela distincao dos dominios de linguas fútil. Basta seguir com atencao a um diálogo numa sala de chat entre dois caboverdianos (seja em termos de uma comunicacao diaspórica primária ou secundária) para constatar que cada vez mais usa-se a LCV como medium de mensagem.
O segundo canal da utilizacao da LCV à nivel transnacional tem a ver com as relações que envolvem as ONG internationais ou mesmo agências autónomas de Estados estrangeiros e as populações em Cabo Verde. Em parte equipado por uma nova mentalidade de cooperacao internacional, as grandes NGO internacionais cada vez mais asseguram um lugar de destaque ao chamado saber local no contexto dos projectos a serem assistidos e/ou em cooperação. A aldeia, o bairro, a vizinhança e, raramente, a vila ou cidade tem sido cada vez mais o foco da acção cooperativa transnacional. E os parceiros internacionais têm assumido (correctamente, penso) que os melhores avaliadores dos projectos são os que supostamente irão beneficiar dos mesmos. Assim sendo, é natural a inclusão de inputs dos locais na criação e implementação dos ditos projectos—através do saber local. Sendo que o saber local tem sido criado e difundido através da língua materna a consequência lógica deste processo é a inclusão da língua materna como factor de desenvolvimento. Por este motivo, um número crescente de NGO internacionais concedem formação linguistica aos seus voluntários e quadros em linguas maternas dos paises onde estes irao actuar (programa semelhante é o caso do Corpo da Paz, ainda que nao sendo uma NGO, parte do principio de uma colaboração efectiva e afectiva entreo cooperante e as populacoes locais). Um grande número de falantes da CVL não-nativos constituem aqueles antigos e actuais voluntários de várias NGO internacionais que têm trabalhado com as populações em Cabo Verde.
No entanto, ainda que um medium comunicativo transnacional em crescente uso, a LCV está longe de ser uma língua internacional (isto é, uma língua usada como medium de comunicação oficial e oficiosa entre os Estados e os organismos por estes criados). Talvez nunca venha a ser uma língua internacional. Mas, para que algum dia passe a ser uma lingua internacional terá que primeiro ser uma lingua de um Estado (e nao simplesmente só uma lingua de uma nacao—por outras palavras, tem de verifcar-se um planeamento quanto ao status da lingua).
Tenho lido algures o argument de que o mundo globalizado, como mundo de constante e instantâneo fluxo de ideias, mercadorias, valores monetários, entre outros, é um mundo altamente competitivo. Maior a globalização, maior também são as forças sociais de busca aos raízes identificativos. Ao mesmo tempo, a globalização tecnológica, ou aquilo que Appadurai prefere chamar de technoscape, garante espaços de avanços a micro-culturas e prácticas e línguas locais. Basta ver, por exemplo, como a internet tem sido um verdadeiro sítio de revivência de línguas consideradas em perigo. Mais ainda, as mais avançadas tecnologias de informação facilitam o uso de muitas linguas que há uma década atrás eram consideradas como essencilamente locais. O google translate, por exemplo, permite a tradução quase que instantânea entre línguas como o irlandês (que segundo os dados do Ethnologue tem não mais de que 300,000 falantes) ou a língua basca (que a mesma fonte considera ter cerca de 580,000 falantes).
As traduções da google translate estão longe da perfeição. Mas quem já é habituado a fazer traduções online poderá constatar o avanço desta tecnologia em relação às precendentes (por exemplo, a babel translation). Dito isso, e sabendo que a lógica do capitalismo global força as empresas a procurar novos mercados, sob o risco de serem absorvidos pela concorrência, penso que é uma questão de tempo para vermos outras línguas adicionadas ao google translate (ou um outro despositivo criado por alguma empresa concorrente à google). A troco de exemplo, é de recordar aqui que já existe um google Cabo Verde (www.google.cv). Uma futura inclusão da LCV na lista da goodle translate dependerá somente dos caboverdianos—e, aí, o processo de internacionalização da nossa língua tornar-se-a mais fácil.
P.S. A defesa da LCV em condição nenhuma deve ser entendida como um ataque a língua portuguesa, a outra língua de bastante uso e história nas ilhas. Sempre defendi multi-lingualismo e, daí opor à qualquer práctica e/ou idea limitativa. Penso que a oficialização da língua permitirá um salto quantum da LCV, aumentando consideravelmente a esfera da sua actuação assim como da sua funcionalidade (e, pode-se até argumentar, melhor o entendimento da língua portuguesa—um conhecimento real das duas línguas parte do princípio da compreensão da “fronteira linguística” entre aquelas duas línguas)
Friday, March 25, 2011
Descontruindo O Mundo de Adérito Barros
Quase nunca presto atenção às declarações em prol do retorno ao passado politico de dependência à Portugal. Tais declarações públicas, pelo menos as lidas pela minha pessoa até recentemente,, quase sempre emanam dos mesmos suspeitos: os membros e os acólitos da antiga sub-elite colonial, lusotropicalista e lusófila. Quando um jovem pós-colonial, no sentido cronológico e não teórico ou ideológico do termo, argumenta no sentido de um retrocesso politico (isto é, irredentismo vis-à-vis Portugal) já as coisas mudam de figura. Sustentado de um lusofilia, ou mesmo de um eurofilia exarcebado, Adérito Barros, no artigo publicado no Forcv online (“Pensar Independência…Pensar atitudes Cabral”), admite que Cabo Verde deve repensar a independência por não ser tão economicamente vantajosa quando comparada com a possível inclusão política no espaço luso-europeu.
Tendo lido muito com cuidado e atenção o texto de Barros, não pude conter-me senão contra-argumentar e descontruir os preceitos básicos (falaciosos, diga-se) por ele enumerados. Muito teria que escrever. No entanto, resumo o escrito a interpretação do conceito chave do texto de Barros, nomeadamente, o de independência, assumindo um postura cabralista a nível epistemológico em geral.
A independência de Barros
Barros começa por definir o conceito de independência, baseando-se numa perspectiva puramente perceptivo: “é o estado psíquico ou mural (sic) em que nós sentimos verdadeiramente livres.” (meu itálico). O sentir e não o ser é que constitui a pedra angular da construção conceptual de Barros. A independência na acepcão de Barros é uma construção psíquico-mental individual. O corolário da proposta definição é que a independência pode muito bem não ser uma realidade empírica—e nem precisa de ser! O que importa é que o individuo, enquanto ser que sente, sinta que é independente.
Em sua defesa Barros poderia muito bem contra-argumentar ao escrito no parágrafo anterior sustentando uma perspectiva teórica pós-moderna, cuja suposição básica é a negação de uma realidade estranha e alheia ao imaginário individual. O empírico não existe em si, e o que de facto existe são interpretações, sentires ou abordagens do involvente. Barros, no entanto, seria atraiçoado pela sua própria conclusão baseada em premissas argumentativas fortemente materialistas e economicistas.
Barros começa por analisar o conceito na perspectiva do indivíduo. Na proposta definição, ser-se independente é não estar-se sob nenhuma autoridade. Hoc opus hic labor est. Por ser o indivíduo um ser social, e não uma besta que pode viver sozinho como nos lembra Aristóteles, o mesmo (ou a mesma) nunca escapa a um ou outro tipo de autoridade (material, moral, espiritual ou abstracta). Particularmente, há que notar uma “autoridade” abstracta moral superior que transcende ao indivíduo. A independência, a nível individual, significa menos não ter que “dar satisfação” (a frase é dele e é tomada por empréstimo) a ninguem do que o indivíduo ser o que determina, estabelece e constroi a forma e o conteúdo da satisfação (sob pena de ser ostracizado ou de ser considerado um pária social). Mais ainda, ser-se independente significa re-formular e reconstruir a hierarquia dos grupos aos quais deve-se submeter a satisfação dos actos (ou omissões) cometidos. Ser-se independente dos pais pode bem significar não ter que dar satisfação aos mesmos; mas não significa que não temos que dar satisfação a ninguem. Ao invés, damos satisfação aos amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalhos, aos nossos chefes e patrões, por ai adiante.
A definição proposta, além de ser construída na base de uma tautologia desnecessária, confunde a independência com libertinagem ou devassidão, quando a sua definição centraliza no não ter que dar satisfação a ninguém. A independência, individual ou colectiva, é antes de mais nada a assumpção de responsibilidades. Tal implica necessáriamente uma obrigação de ter que “dar satisfação.”
No que se refere ao corpo colectivo, Barros omite—ou pelo menos não clarifica--o conceito de independência. Talvez pense que o conceito tenha o mesmo valor analítico quando aplicado tanto a uma análise a nivel individual ou a nível colectivo. No caso deste último, a “independência” de Barros simplesmente é inaplicável. Aliás a continuidade biológica e moral implica categorica submissão aos valores socialmente construidos da moralidade e da ética. Enquanto corpo comunitário somos sempre obrigados a “dar satisfacao” a uma autoridade moral superior. Tal autoridade é o cimento que mantém o edifício comunitário total e pleno. A partir do momento que a dita autoridade perde legitimidade de exercer supremacia ou novos valores surgirão demandando novas submissões ou simplesmente a comunidade decai e desmantela-se. No que toca às comunidades humanas, a independência, garantindo, sustentando e desenvolvendo o duplo e intímo processo de construção do Estado e da Nação, constitui, em si mesma, uma contribuição singular de qualquer grupo humano para o processo civilizatório e histórico global. Daí que implica ter que “dar sataisfacao” à história humana e às gerações vindouras.
O Conceito Cabraliano de Independência
Um dos problemas actuais de Cabo Verde tem a ver com o que se pode designar de analfabetismo da história, isto é, a ignorância crescente sobre o processo histórico das ilhas de Cabo Verde, designadamente sobre o período tardo-colonial. Surpreendente é a falta de conhecimento e entendimento (ou mesmo de disinteresse) dos escritos e das prácticas políticas de Amílcar Cabral, o pai das nacionalidades de Cabo Verde e de Guiné-Bissau (não confundir Cabral iconográfico que é muito comum com o entendimento das suas teorias). Mister se torna re-estabelecer uma nova pedagogia baseada naquilo que podemos chamar de Cabral literacy.
Falar de independência em Cabo Verde implica falar de Cabral. Por esta razão, deve-se revisitar a noção de independência no pensamento de Amílcar Cabral. Cabral, desde cedo, frisou a necessidade de basear a luta de libertação em dois princípios guias fundamentais: primeiro, a noção de que a prática (praxis) deve ser entrelaçada com a teoria (theoria). A teoria é o que gera ordem e planeamento da práctica, e a práctica, por seu turno, é o que garante situações empíricas que orientam o desenvolvimento teórico. Daí que a luta de libertação nacional, na perspectiva cabraliana, foi também uma luta ideológica e teórica, tendo Cabral desenvolvido uma das mais coerentes teorias anti-colonial e pós-colonial. O segundo princípio cabraliano, intimamente ligado ao primeiro, relaciona-se com o conhecimento da realidade empírica, ou aquilo que Cabral chamou de realidades concretas. Na acepção de Cabral, qualquer decisão política deve, antes de mais, ter em consideração o ambiente social sobre a qual a dita decisão irá reflectir. Assim sendo, as decisões políticas adequadas serão aquelas que estão em sintonia com o ambiente social. Isto tem muito a ver com aquilo que Ajume Wingo, filósofo camaronês, chama de living legitimacy (literalmente traduzido “legitimidade vivente”), isto é, quando o social concreto é o ponto de partida e de influência ao politico, e não o vice-versa.
Foi com base nestes dois princípios que Cabral desde logo se demarcou do que acontecia nos restantes países limítrofes da Guine-Bissau nos anos 1960 e 1970. Cabral, astuto politico, de inteligência rara e aguda, percebeu e bem que a independência nunca poderia ser considerado como o ponto de chegada. Demarcou-se, então, da influência de Nkrumah que advogava “seek ye first the political kingdom and things will be added unto you.” O erro de Nkrumah foi o de pensar a independência como um mecanismo automatic cujo alcance provoca imediata transformação sócio-económico—na segunda metade dos anos 1960 Nkrumah viria a reformular tal princípio no livrete Neocolonialismo, a Última Etapa do Imperialismo.
Ao invês, a independência é apenas o ponto de partida. O neo-colonialismo francês vis-à-vis às antigas colónias teria mostrado que a descolonização pode ser somente uma “independência de bandeira.” Por este motivo, Cabral elaborou a distinção válida entre a independência nacional e a libertação nacional. O objectivo ultimo de Cabral era a libertação por ele definida como “libertação total das forças productivas” nacionais. Libertação nacional é acima de tudo social e económico, permitindo criar as condições que permitam estabelecer bases sólidas de modernização e do progresso, sem contudo virar costas ao passado. A política de modernização mistura-se, assim, com a política de autenticidade.
A independência não deve ser encarada como um fim em si mesmo; ela deve, pelo contrário, ser um inicio (ou um meio) com vista a atingir objectivos que favoreçam o corpo politico. Daí que Cabral enfatizou desde sempre o princípio de luta. Luta, no entender de Cabral, involve muito mais do que a luta armada contra o colonialismo nas matas da Guiné-Bissau, durante quase quinzes anos. Na verdade, a luta armada, na perspectiva cabraliana, seria apenas a mais fácil das várias lutas a serem travadas pelos povos de Cabo Verde e da Guiné-¬Bissau. A luta é um fenómeno sócio-político dinámico, multi-dimensional e constante. A luta pela modernidade e desenvolvimento, a ser travado no periodo pós-colonial, é de longe a mais díficil. Não menos díficil também é a luta contra nós mesmos, contra o oportunismo, conformismo ou quaisquer outras atitudes (incluindo a mentalidade assistencialista claramente patente no texto de Barros) que atrapalham o processo desenvolvimentalista nacional.
Acresce , o conceito cabraliano de luta é centrado no esforço próprio da comunidade em questão (na terminologia actual em voga, diria que é baseado no empoderamento—empowerment—da comunidade). Qualquer acção (política, económica ou de outro tipo) tem de basear na agência e iniciativa do colectivo, o qual espera beneficiar-se da dita acção. Dito por outras palavras, a luta (política, armada, económica, etc) deve ser travada e liderada pelo colectivo e deve-se evitar que os benefícios sejam gozados pelo colectivo sem que este tivesse lutado para tal. Por este motivo, a luta é um processo dinámico de reconstrução psicológica baseado na ideia que a melhor recompensa é aquela que é fruto da acção do grupo (daí que desde sempre Cabral negou a participação directa de qualquer individuo/força estrangeira no processo liberatório. O processo liberatório deve não só ser nacional (quando o objectivo é alcançar avanços politicos e económicos para a comunidade nacional) como também deve ser nacionalizada (quando a iniciativa de condução do processo é controlado pelos próprios nacionais ). Caveat aqui seria necessário: isto está longe de ser um provincialismo barato. A ideia de nacionalização da luta é construtiva e é aberta a ajudas dos estrangeiros (desde que tais assumam posições secundárias ou de suporte—não mais do que isso! Aqui, cita-se, a título de exemplo, o caso da recusa da incorporação do líderes do movimento civil norte-americano, Stockely Carmichael, aka Kwame Touré, entre as filheiras do PAIGC).
Ao mesmo tempo, a dita nacionalização da luta permite auferir ganhos significativos de várias ordens para a comunidade. É em si mesmo ser um processo fundamentalmente sustentado naquilo que Platão chamava de thymos, isto é, a componente da alma humana que demanda reconhecimento. Subsequentemente, estimula a auto-estima colectivo, o elemento catalizador par excellence de qualquer processo desenvolvimentalista nacional.
A luta—principalmente quando armada—é o processo que possibilita a construção nacional. A necessidade de um frente nacional implica imaginar a comunidade como um corpo colectivo, de história e futuro comuns para além de constituir, em si mesma, um conjunto de acções e práticas que permitem a transferência das lealdades primárias (étnicas, regionais, etc) para o nacional.
Da Independência à Construção
A inovação cabraliana reside ainda no estabelicimento da independência como um ponto de partida, ou se quiser, como um meio e nunca como um fim. A independência nacional seria um instrumento de reclame da agência histórica, isto é, a verdadeira aplicação do princípio de auto-determinação quando qualquer história é localmente determinada. Essa agência histórica, conquistada, mas no entanto, longe de ser total ou totalizante, é o suporte de qualquer comunidade nacional. Já tinha mencionado o conceito platónico de de thymos. A independência, neste sentido, é uma luta pelo reconhecimento, na acepção hegeliana do termo: é só com uma luta vitoriosa que o antigo mestre reconhece o antigo subordinado como igual.
O argumento de Barros simplesmente ignora o elemento thymos. Pelo contrário, é um argumento puramente economicista: é o estado da economia política que deveria ditar a política do Estado. O segundo deve submeter-se ao primeiro. O re-pensar a independência nacional é baseada em elementos materiais e económicos, como se a vida política fosse simplesmente o reflexo da vida económica (a la Marx): o homo economicus deve sobrepor a qualquer outro tipo do ser humano: homo politicus, homo culturalis, por ai adiante. A abundância material deve dominar as vontades imateriais.
Mas isto não equivale declarar que a economia não é uma variável de significante relevo na vida política. A independência, para o continente africano em geral, e para as ilhas de Cabo Verde em particular, foi sempre pensada também em termos de construir um atalho para a modernidade económica proíbida pelo pacto colonial. Claro que como bem comentou Goran Hyden não há “atalhos para o progresso.” O progresso é uma luta constante e atingir-se-á através de uma ética baseada no esforço colectivo das mulheres e dos homens envolvidos, mobilizados e conscientizados na construção comunitária.
In cauda venenum, o re-pensar da independência que Barros propõe é sustentado por uma mentalidade assistencialista quando devia-se aceitar o desafio generacional de continuar e aprofundar a luta. Tudo o que a União Europeia até hoje conseguiu podemos também conseguir, desde que, de facto, lutemos para tal. Deturpando Engels diria que “a luta criou a mulher e o homem…”
Tendo lido muito com cuidado e atenção o texto de Barros, não pude conter-me senão contra-argumentar e descontruir os preceitos básicos (falaciosos, diga-se) por ele enumerados. Muito teria que escrever. No entanto, resumo o escrito a interpretação do conceito chave do texto de Barros, nomeadamente, o de independência, assumindo um postura cabralista a nível epistemológico em geral.
A independência de Barros
Barros começa por definir o conceito de independência, baseando-se numa perspectiva puramente perceptivo: “é o estado psíquico ou mural (sic) em que nós sentimos verdadeiramente livres.” (meu itálico). O sentir e não o ser é que constitui a pedra angular da construção conceptual de Barros. A independência na acepcão de Barros é uma construção psíquico-mental individual. O corolário da proposta definição é que a independência pode muito bem não ser uma realidade empírica—e nem precisa de ser! O que importa é que o individuo, enquanto ser que sente, sinta que é independente.
Em sua defesa Barros poderia muito bem contra-argumentar ao escrito no parágrafo anterior sustentando uma perspectiva teórica pós-moderna, cuja suposição básica é a negação de uma realidade estranha e alheia ao imaginário individual. O empírico não existe em si, e o que de facto existe são interpretações, sentires ou abordagens do involvente. Barros, no entanto, seria atraiçoado pela sua própria conclusão baseada em premissas argumentativas fortemente materialistas e economicistas.
Barros começa por analisar o conceito na perspectiva do indivíduo. Na proposta definição, ser-se independente é não estar-se sob nenhuma autoridade. Hoc opus hic labor est. Por ser o indivíduo um ser social, e não uma besta que pode viver sozinho como nos lembra Aristóteles, o mesmo (ou a mesma) nunca escapa a um ou outro tipo de autoridade (material, moral, espiritual ou abstracta). Particularmente, há que notar uma “autoridade” abstracta moral superior que transcende ao indivíduo. A independência, a nível individual, significa menos não ter que “dar satisfação” (a frase é dele e é tomada por empréstimo) a ninguem do que o indivíduo ser o que determina, estabelece e constroi a forma e o conteúdo da satisfação (sob pena de ser ostracizado ou de ser considerado um pária social). Mais ainda, ser-se independente significa re-formular e reconstruir a hierarquia dos grupos aos quais deve-se submeter a satisfação dos actos (ou omissões) cometidos. Ser-se independente dos pais pode bem significar não ter que dar satisfação aos mesmos; mas não significa que não temos que dar satisfação a ninguem. Ao invés, damos satisfação aos amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalhos, aos nossos chefes e patrões, por ai adiante.
A definição proposta, além de ser construída na base de uma tautologia desnecessária, confunde a independência com libertinagem ou devassidão, quando a sua definição centraliza no não ter que dar satisfação a ninguém. A independência, individual ou colectiva, é antes de mais nada a assumpção de responsibilidades. Tal implica necessáriamente uma obrigação de ter que “dar satisfação.”
No que se refere ao corpo colectivo, Barros omite—ou pelo menos não clarifica--o conceito de independência. Talvez pense que o conceito tenha o mesmo valor analítico quando aplicado tanto a uma análise a nivel individual ou a nível colectivo. No caso deste último, a “independência” de Barros simplesmente é inaplicável. Aliás a continuidade biológica e moral implica categorica submissão aos valores socialmente construidos da moralidade e da ética. Enquanto corpo comunitário somos sempre obrigados a “dar satisfacao” a uma autoridade moral superior. Tal autoridade é o cimento que mantém o edifício comunitário total e pleno. A partir do momento que a dita autoridade perde legitimidade de exercer supremacia ou novos valores surgirão demandando novas submissões ou simplesmente a comunidade decai e desmantela-se. No que toca às comunidades humanas, a independência, garantindo, sustentando e desenvolvendo o duplo e intímo processo de construção do Estado e da Nação, constitui, em si mesma, uma contribuição singular de qualquer grupo humano para o processo civilizatório e histórico global. Daí que implica ter que “dar sataisfacao” à história humana e às gerações vindouras.
O Conceito Cabraliano de Independência
Um dos problemas actuais de Cabo Verde tem a ver com o que se pode designar de analfabetismo da história, isto é, a ignorância crescente sobre o processo histórico das ilhas de Cabo Verde, designadamente sobre o período tardo-colonial. Surpreendente é a falta de conhecimento e entendimento (ou mesmo de disinteresse) dos escritos e das prácticas políticas de Amílcar Cabral, o pai das nacionalidades de Cabo Verde e de Guiné-Bissau (não confundir Cabral iconográfico que é muito comum com o entendimento das suas teorias). Mister se torna re-estabelecer uma nova pedagogia baseada naquilo que podemos chamar de Cabral literacy.
Falar de independência em Cabo Verde implica falar de Cabral. Por esta razão, deve-se revisitar a noção de independência no pensamento de Amílcar Cabral. Cabral, desde cedo, frisou a necessidade de basear a luta de libertação em dois princípios guias fundamentais: primeiro, a noção de que a prática (praxis) deve ser entrelaçada com a teoria (theoria). A teoria é o que gera ordem e planeamento da práctica, e a práctica, por seu turno, é o que garante situações empíricas que orientam o desenvolvimento teórico. Daí que a luta de libertação nacional, na perspectiva cabraliana, foi também uma luta ideológica e teórica, tendo Cabral desenvolvido uma das mais coerentes teorias anti-colonial e pós-colonial. O segundo princípio cabraliano, intimamente ligado ao primeiro, relaciona-se com o conhecimento da realidade empírica, ou aquilo que Cabral chamou de realidades concretas. Na acepção de Cabral, qualquer decisão política deve, antes de mais, ter em consideração o ambiente social sobre a qual a dita decisão irá reflectir. Assim sendo, as decisões políticas adequadas serão aquelas que estão em sintonia com o ambiente social. Isto tem muito a ver com aquilo que Ajume Wingo, filósofo camaronês, chama de living legitimacy (literalmente traduzido “legitimidade vivente”), isto é, quando o social concreto é o ponto de partida e de influência ao politico, e não o vice-versa.
Foi com base nestes dois princípios que Cabral desde logo se demarcou do que acontecia nos restantes países limítrofes da Guine-Bissau nos anos 1960 e 1970. Cabral, astuto politico, de inteligência rara e aguda, percebeu e bem que a independência nunca poderia ser considerado como o ponto de chegada. Demarcou-se, então, da influência de Nkrumah que advogava “seek ye first the political kingdom and things will be added unto you.” O erro de Nkrumah foi o de pensar a independência como um mecanismo automatic cujo alcance provoca imediata transformação sócio-económico—na segunda metade dos anos 1960 Nkrumah viria a reformular tal princípio no livrete Neocolonialismo, a Última Etapa do Imperialismo.
Ao invês, a independência é apenas o ponto de partida. O neo-colonialismo francês vis-à-vis às antigas colónias teria mostrado que a descolonização pode ser somente uma “independência de bandeira.” Por este motivo, Cabral elaborou a distinção válida entre a independência nacional e a libertação nacional. O objectivo ultimo de Cabral era a libertação por ele definida como “libertação total das forças productivas” nacionais. Libertação nacional é acima de tudo social e económico, permitindo criar as condições que permitam estabelecer bases sólidas de modernização e do progresso, sem contudo virar costas ao passado. A política de modernização mistura-se, assim, com a política de autenticidade.
A independência não deve ser encarada como um fim em si mesmo; ela deve, pelo contrário, ser um inicio (ou um meio) com vista a atingir objectivos que favoreçam o corpo politico. Daí que Cabral enfatizou desde sempre o princípio de luta. Luta, no entender de Cabral, involve muito mais do que a luta armada contra o colonialismo nas matas da Guiné-Bissau, durante quase quinzes anos. Na verdade, a luta armada, na perspectiva cabraliana, seria apenas a mais fácil das várias lutas a serem travadas pelos povos de Cabo Verde e da Guiné-¬Bissau. A luta é um fenómeno sócio-político dinámico, multi-dimensional e constante. A luta pela modernidade e desenvolvimento, a ser travado no periodo pós-colonial, é de longe a mais díficil. Não menos díficil também é a luta contra nós mesmos, contra o oportunismo, conformismo ou quaisquer outras atitudes (incluindo a mentalidade assistencialista claramente patente no texto de Barros) que atrapalham o processo desenvolvimentalista nacional.
Acresce , o conceito cabraliano de luta é centrado no esforço próprio da comunidade em questão (na terminologia actual em voga, diria que é baseado no empoderamento—empowerment—da comunidade). Qualquer acção (política, económica ou de outro tipo) tem de basear na agência e iniciativa do colectivo, o qual espera beneficiar-se da dita acção. Dito por outras palavras, a luta (política, armada, económica, etc) deve ser travada e liderada pelo colectivo e deve-se evitar que os benefícios sejam gozados pelo colectivo sem que este tivesse lutado para tal. Por este motivo, a luta é um processo dinámico de reconstrução psicológica baseado na ideia que a melhor recompensa é aquela que é fruto da acção do grupo (daí que desde sempre Cabral negou a participação directa de qualquer individuo/força estrangeira no processo liberatório. O processo liberatório deve não só ser nacional (quando o objectivo é alcançar avanços politicos e económicos para a comunidade nacional) como também deve ser nacionalizada (quando a iniciativa de condução do processo é controlado pelos próprios nacionais ). Caveat aqui seria necessário: isto está longe de ser um provincialismo barato. A ideia de nacionalização da luta é construtiva e é aberta a ajudas dos estrangeiros (desde que tais assumam posições secundárias ou de suporte—não mais do que isso! Aqui, cita-se, a título de exemplo, o caso da recusa da incorporação do líderes do movimento civil norte-americano, Stockely Carmichael, aka Kwame Touré, entre as filheiras do PAIGC).
Ao mesmo tempo, a dita nacionalização da luta permite auferir ganhos significativos de várias ordens para a comunidade. É em si mesmo ser um processo fundamentalmente sustentado naquilo que Platão chamava de thymos, isto é, a componente da alma humana que demanda reconhecimento. Subsequentemente, estimula a auto-estima colectivo, o elemento catalizador par excellence de qualquer processo desenvolvimentalista nacional.
A luta—principalmente quando armada—é o processo que possibilita a construção nacional. A necessidade de um frente nacional implica imaginar a comunidade como um corpo colectivo, de história e futuro comuns para além de constituir, em si mesma, um conjunto de acções e práticas que permitem a transferência das lealdades primárias (étnicas, regionais, etc) para o nacional.
Da Independência à Construção
A inovação cabraliana reside ainda no estabelicimento da independência como um ponto de partida, ou se quiser, como um meio e nunca como um fim. A independência nacional seria um instrumento de reclame da agência histórica, isto é, a verdadeira aplicação do princípio de auto-determinação quando qualquer história é localmente determinada. Essa agência histórica, conquistada, mas no entanto, longe de ser total ou totalizante, é o suporte de qualquer comunidade nacional. Já tinha mencionado o conceito platónico de de thymos. A independência, neste sentido, é uma luta pelo reconhecimento, na acepção hegeliana do termo: é só com uma luta vitoriosa que o antigo mestre reconhece o antigo subordinado como igual.
O argumento de Barros simplesmente ignora o elemento thymos. Pelo contrário, é um argumento puramente economicista: é o estado da economia política que deveria ditar a política do Estado. O segundo deve submeter-se ao primeiro. O re-pensar a independência nacional é baseada em elementos materiais e económicos, como se a vida política fosse simplesmente o reflexo da vida económica (a la Marx): o homo economicus deve sobrepor a qualquer outro tipo do ser humano: homo politicus, homo culturalis, por ai adiante. A abundância material deve dominar as vontades imateriais.
Mas isto não equivale declarar que a economia não é uma variável de significante relevo na vida política. A independência, para o continente africano em geral, e para as ilhas de Cabo Verde em particular, foi sempre pensada também em termos de construir um atalho para a modernidade económica proíbida pelo pacto colonial. Claro que como bem comentou Goran Hyden não há “atalhos para o progresso.” O progresso é uma luta constante e atingir-se-á através de uma ética baseada no esforço colectivo das mulheres e dos homens envolvidos, mobilizados e conscientizados na construção comunitária.
In cauda venenum, o re-pensar da independência que Barros propõe é sustentado por uma mentalidade assistencialista quando devia-se aceitar o desafio generacional de continuar e aprofundar a luta. Tudo o que a União Europeia até hoje conseguiu podemos também conseguir, desde que, de facto, lutemos para tal. Deturpando Engels diria que “a luta criou a mulher e o homem…”
Tuesday, August 12, 2008
Confusões et alia: 10 pontos contra o anti-ALUPEC
Estas linhas constituem não mais de que um artigo de refutação ao escrito apresentado por Senhor Napoleão Andrade (“Nação, Regionalismo e Identidade Nacional,” Liberal Cabo Verde online de 7 de Agosto de 2008). Ainda que o leitmotiv deste artigo refere centralmente a controvérsia gerada pelo ALUPEC, comecaria este artigo com um caveat, deixanado bem claro que tal não é um texto de linguistica ou de filologia, áreas que não passo de um mero leigo. Mas, a meu abono, manterei distância à uma discussão da substância filológica de tal alfabeto. Digo que suporte o ALUPEC no sentido que tal pode servir como um instrumento de padronização da língua caboverdiana. Como tal, penso eu, de tal instrumento ser um veículo importante no projecto de modernização. No mundo de hoje, que muitos falam de convergência, padronização, é assim necessário a standardização do que é nosso. Particularmente por existe um grande número de caboverdianos no mundo afora, o Estado de Cabo Verde deve apostar nesta padronização – para não correr o risco de desenvolvimento eclético de varias maneiras de escrever o crioulo caboverdiano.
Um problema que sempre surge em relação ao ALUPEC constitui o facto de ser (erronicamente) percebido como projecto hegemónico do crioulo “badiu.” O ALUPEC apenas regulariza maneira de escrever, sem intrometer nas variâncias regionais. Em qualquer país do mundo, a língua nacional tem variações à nível regionais. Mas nem por isso, deixa-se de padronizar. Um exemplo conhecido por muitos é o caso de Portugal: sabe-se que os nortenhos pronunciam “binho” quando referem ao “vinho;” mas nem por isso escrevem “binho” quando intentam referir escritamente ao “vinho.” Padronizando implica trazer regras que permitam transcender as variações regionais.
Facilitando a compreensão do leitor, avanço em pontos:
1. Para o Andrade, a lingua caboverdiana (ou a lingua crioula) é a “herdeira legítima das palavras portuguesas,” e ipso facto construir um alfabeto puramente caboverdiano não passa de uma aventura “desnecessária” (sic). Tal compreensão simplesmente não tem cabimento - usando um vulgarismo brasileiro. Lógicamente é um classico exemplo da ditto redutio ad antiquatem. Trocado em miúdos: X sempre foi feito assim, então qualquer mudança à X é, ipso facto, errado. O argument assim construído não é direcionado à qualquer (possível ou potencial) falha endógena ao sistema de ALUPEC, mais antes é construido no sentido de chamar atenção ao que sempre foi o caminho tomado. Esta intentação conservadora, no entanto vai, contra o “a evolução no tempo,” que o Andrade menciona. Infelizmente careço de informação que poderá iluminar o leitor sobre a escolha alfabética do ALUPEC – particularmente a substituição do “C” pelo “S.” Tal explicação acho ser reservada aos especialistas. Mas o que aqui refuto é a ideia que no português é assim, e assim deve ser no crioulo caboverniano.
2. O alfabeto latim, do qual herdou o português, passou por fases de mudanças e incorporações de novas letras, de modo a facilitar a comunicação. Basta lembrar que nos primeiros tempos do alfabeto latim (ou melhor, romano) não existia simplesmente a letra “J.” Assim, a letra”I” funcionava como símbolo fonético tanto ao “I” como a “J.” Daí que o célèbre “título” imputado ao Jesus Cristo pelos romanos lê-se “INRI” – “Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm,” Jesus de Nazaré, rei de Judeus ( note-se ainda que a palavra “V” fazia o papel de “U”). Se tivesse empriosanado na tradição e no passado, o alfabeto latim (e por consequente o alfabeto português) teria graves problemas em termos de simbolização escrita de vários vocábulos modernos.
3. Mais ainda, de ponto de vista estructural, o alfabeto não é mais do que um conjunto de símbolos construídos para a facilitação da comunicação (escrita principalmente). E simbolos, sou levado a crer por antropólogos e sociólogos, não passam de “representações sociais,” ou melhor “construções sociais.” Assim sendo, nada de ahistórico existe em qualquer simbologia. São, isso sim, uma criação inserida numa história, tornados “sociais” através de convenções, formais ou informais (que podem até ser impostas). O sine que non da implementação social de qualquer alfabeto (ou de qualquer simbologia in toto) é exactamente a existência de uma convenção. No mundo moderno, caracterizado pela constante racionalização do corpo político, tal papel ficou reservado ao Estado (através de uma burocracia especializada no assunto com o apoio de uma “comunidade epistemológica”), agente historicamente activo na construção nacional. A título de exemplo, o alfabeto português que nós conhecemos é oriundo de uma convenção, a chamada Ortografia Nacional de 1911. Antes de tal decisão (governamental, diga-se de passagem), a palavra farmácia escrevia-se “pharmácia”, por existir no português antigo o “ph.”
4. Lembre-se ainda, a propósito do alfabeto português, uma convenção foi aprovada recentemente – o dito Novo Acordo Ortográfico de 2005,o qual, saliente-se, acrescenteu três letras ao alfabeto português – nomeadamente, K, W e Y. Tal convenção é prova que a lingual, falada ou escrita, nunca deve ser encarcerada pela tradição. Pelo contrário, o desenvolvimento social traz consigo desenvolvimento comunicacional de tal maneira que só um correspondente desenvolvimento lexicológico – que às vezes implica novas letra ou novas combinações de letras – poderá permitir expressar o estado das coisas. Tudo isto para mostrar que se o português (ou o espanhol ou qualquer outra lingua) pode sempre criar, recriar, eliminar ou acresentar novas letras no alfabeto ou mesmo uma nova lexicografia. E já agora porque não o crioulo caboverdiano? Parece-me, portanto, mais lógico esperar de um técnico – preferencialmente qualquer um ligado ao projecto ALUPEC – a explicação do rationale da escolha alfabética. Parece-me que os técnicos do ALUPEC optaram pela simplificação e padronização – passo fundamental para qualquer acção comunicativa escrita.
5. O Andrade ainda escreve que “[p]ara um aluno que irá aprender ALUPEC terá várias barreiras na aprendizagem do português, francês e inglês, uma vez que será consumido e atrapalhado pelas regras inventadas.” Tal causalidade, além de ser ridícula, carece de suporte empírico ou mesmo teórico. Gostaria de saber em que estudos empíricos baseou o Andrade para tal conclusão. Se não em empiricismo algum, que teoria epistemológica foi o autor basear? Mais ainda, tal proposição assume a fraca capacidade intelectual dos estudantes caboverdianos. Ou será que a mente do estudante caboverdiano é assim tão fraco, que não consegue adaptar às “novas regras”? Já agora, será que estes mesmo estudantes irão ter problemas com as “novas regras” do português, como acordado no Novo Acordo Ortográfico de 2005? (um simples parentêsis para alerter ao Andrade que tanto o francês como o Inglês -como qualquer outro idioma do mundo contemporâneo - constitutem uma sucessão de “novas” regras).
6. O ALUPEC, na acepção de Andrade, não passa mais do que uma “pedagogia do oprimido,” “[inventora] de uma lingua de escravos.” Tal afirmação além de ser imprecisa, é historicamente errada. O escravo que habitou as ilhas de Cabo Verde desenvolveu uma forma singular de comunicação oral, nunca, no entanto, desenvolvendo uma práctica escrita. Talvez o caracter pró-escravo que Andrade refere deve-se ao facto do ALUPEC ser baseado, em parte saliente-se, na construçã0 fonética de palavras. Ora, o ALUPEC é a fase mais recente de um processo de construção de língua escrita no pós-colonial, cujo o primeiro passo foi o conhecido Colóquio Linguístico de Mindelo de 1979. É sabido que neste ditto colóquio, dominou-se a perspectiva pró-fonémica. No entanto, a perspectiva pró-etimológica dominou o Forum Lingístico de 1989. O ALUPEC, criado em 1994, é a síntese dialéctica destas duas perspectivas de construções ortográficas (sobre o assunto vide Marlyse Baptista The Synthax of Cape Verdean Creole). Assim sendo, o ALUPEC não é a língua escrita da “senzala,” como entende o Andrade. E mais ainda pretende demonstrar a sua distância à língua de “casa grande.” No entanto, aceita como princípio básico, penso eu, a concordância comunicativa entre estas duas localidades históricas.
7. Talvez a intensão dos técnicos responsáveis pelo ALUPEC seja, como Nguigi wa Thiong’o, “descolinizar a mente,” por assumir com Fanon que uma língua Parte de tal estratégia implica a ascenção do crioulo em paridade com o português – ao invês da tradicional dicotomia entre “lingua nacional” e “lingua official” (sobre isso vide Batalha “The Politics of Cape Verdean Creole”; Dias “Língua e Poder: Transcrevendo a Questão Nacional”. É bem provável que o Colóquio Linguístico de Mindelo de 1979 tenha sido influenciado por um Pan-Africanismo radical. Afinal das contas o ambiente de então proporcionava tal ideologia. Mas depois do dito colóquio, outros encontros foram levados à cabo, resultando, como notado acima, na criação de ALUPEC em 1994.
8. É preciso ainda notar que o ALUPEC não é anti-português, como muitos assumem.A implementação de tal regra não significa que vamos ter que eliminar o português. O ALUPEC, julgo eu, ser um projecto para o futuro. Por isso, deve ocasionar entre nós uma certa confusão por estarmos habituados a uma certa maneira de escrever. O ALUPEC padroniza e sistematiza. Uma vez implementada, divulgada, socializada e internalizada pelas novas gerações (principalmente), as “novas regras” passarão ser simplesmente “regras.”
9. Afirma ainda o Andrade que “[s]istematizar o ensino a maneira do A,B,S será perigoso, porque trás [sic] na sua PEDAGOGIA DE OPRIMIDO um certo racismo africano, fenómeno altamente perturbador para uma nação mestiça.” Como argumentei acima o alfabeto não é mais do que um conjunto de símbolos com o objectivo de facilitar a comunicação. É preciso muito estudo antes de implementar um determinado alfabeto – como uma qualquer outra política pública. Mas, por outro lado, deve existir um argumento lógica e filologicamente válido da subtração do “C” do alfabeto da língua caboverdiana. Bem espero que os técnicos e estudiosos atrás do projecto de ALUPEC não tenhan criado tal sistema simplesmente por causa de “ briu di korpu,” fazendo uso de um cliché do crioulo caboverdiano. Antes de ser uma “pedagogia de oprimido,” como afirma Andrade baseando na célebre frase de Paulo Freire, o ALUPEC é antes de mais nada um instrumento contra o constante reprimir do crioulo caboverdiano – divulgado, por exemplo, em clichés como “kriolu kabuverdianu ka tén regra.” Pois é exactamente a imputação de regra (padronização) ao crioulo que é a função primária do ALUPEC.
10. O facto da nossa língua ser uma “herança” do português, não significa que não se pode fazer alterações ao alfabeto por nós herdado. A título de exemplo, tanto o espanhol (ou castelhano, como prefere alguns) como o alemão fazem uso do alfabeto latim. Mas nem por isso recusaram de fazer alterações (ou melhor, mais uma introdução que alteração própriamente dita), facilitanto a comunicação (No espanhol, o “Ñ” e no alemão o “β”). Mas nem por isso ouve-se dizer que o alfabeto espanhol ou o alemão é ( foi) em si uma revolta à hegemonia romana-latina. Mais ainda, Andrade parece conturbado porque, em acordância com o ALUPEC, a palavra “casa,” por exemplo, é escrito “kasa.” Uma vez mais, a escrita é uma simples convenção. Tanto o português como o espanhol herdaram do latim e herdam, como tal, um conjunto de vocábulos da língua que foi falada por Júlio César. Entre os vocábulos herdados encontra-se o pronome latin “quails.” Entretando, passando às duas línguas ibéricas, o Português optou por “qual” ao passo que o espanhol optou por “cual.” No caso português, a perspectiva dominante (pelo menos no exemplo acima) foi a pró-etimológica, ao passo que os castelhanos optaram pela perspectiva pró-fonémica.
Um problema que sempre surge em relação ao ALUPEC constitui o facto de ser (erronicamente) percebido como projecto hegemónico do crioulo “badiu.” O ALUPEC apenas regulariza maneira de escrever, sem intrometer nas variâncias regionais. Em qualquer país do mundo, a língua nacional tem variações à nível regionais. Mas nem por isso, deixa-se de padronizar. Um exemplo conhecido por muitos é o caso de Portugal: sabe-se que os nortenhos pronunciam “binho” quando referem ao “vinho;” mas nem por isso escrevem “binho” quando intentam referir escritamente ao “vinho.” Padronizando implica trazer regras que permitam transcender as variações regionais.
Facilitando a compreensão do leitor, avanço em pontos:
1. Para o Andrade, a lingua caboverdiana (ou a lingua crioula) é a “herdeira legítima das palavras portuguesas,” e ipso facto construir um alfabeto puramente caboverdiano não passa de uma aventura “desnecessária” (sic). Tal compreensão simplesmente não tem cabimento - usando um vulgarismo brasileiro. Lógicamente é um classico exemplo da ditto redutio ad antiquatem. Trocado em miúdos: X sempre foi feito assim, então qualquer mudança à X é, ipso facto, errado. O argument assim construído não é direcionado à qualquer (possível ou potencial) falha endógena ao sistema de ALUPEC, mais antes é construido no sentido de chamar atenção ao que sempre foi o caminho tomado. Esta intentação conservadora, no entanto vai, contra o “a evolução no tempo,” que o Andrade menciona. Infelizmente careço de informação que poderá iluminar o leitor sobre a escolha alfabética do ALUPEC – particularmente a substituição do “C” pelo “S.” Tal explicação acho ser reservada aos especialistas. Mas o que aqui refuto é a ideia que no português é assim, e assim deve ser no crioulo caboverniano.
2. O alfabeto latim, do qual herdou o português, passou por fases de mudanças e incorporações de novas letras, de modo a facilitar a comunicação. Basta lembrar que nos primeiros tempos do alfabeto latim (ou melhor, romano) não existia simplesmente a letra “J.” Assim, a letra”I” funcionava como símbolo fonético tanto ao “I” como a “J.” Daí que o célèbre “título” imputado ao Jesus Cristo pelos romanos lê-se “INRI” – “Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm,” Jesus de Nazaré, rei de Judeus ( note-se ainda que a palavra “V” fazia o papel de “U”). Se tivesse empriosanado na tradição e no passado, o alfabeto latim (e por consequente o alfabeto português) teria graves problemas em termos de simbolização escrita de vários vocábulos modernos.
3. Mais ainda, de ponto de vista estructural, o alfabeto não é mais do que um conjunto de símbolos construídos para a facilitação da comunicação (escrita principalmente). E simbolos, sou levado a crer por antropólogos e sociólogos, não passam de “representações sociais,” ou melhor “construções sociais.” Assim sendo, nada de ahistórico existe em qualquer simbologia. São, isso sim, uma criação inserida numa história, tornados “sociais” através de convenções, formais ou informais (que podem até ser impostas). O sine que non da implementação social de qualquer alfabeto (ou de qualquer simbologia in toto) é exactamente a existência de uma convenção. No mundo moderno, caracterizado pela constante racionalização do corpo político, tal papel ficou reservado ao Estado (através de uma burocracia especializada no assunto com o apoio de uma “comunidade epistemológica”), agente historicamente activo na construção nacional. A título de exemplo, o alfabeto português que nós conhecemos é oriundo de uma convenção, a chamada Ortografia Nacional de 1911. Antes de tal decisão (governamental, diga-se de passagem), a palavra farmácia escrevia-se “pharmácia”, por existir no português antigo o “ph.”
4. Lembre-se ainda, a propósito do alfabeto português, uma convenção foi aprovada recentemente – o dito Novo Acordo Ortográfico de 2005,o qual, saliente-se, acrescenteu três letras ao alfabeto português – nomeadamente, K, W e Y. Tal convenção é prova que a lingual, falada ou escrita, nunca deve ser encarcerada pela tradição. Pelo contrário, o desenvolvimento social traz consigo desenvolvimento comunicacional de tal maneira que só um correspondente desenvolvimento lexicológico – que às vezes implica novas letra ou novas combinações de letras – poderá permitir expressar o estado das coisas. Tudo isto para mostrar que se o português (ou o espanhol ou qualquer outra lingua) pode sempre criar, recriar, eliminar ou acresentar novas letras no alfabeto ou mesmo uma nova lexicografia. E já agora porque não o crioulo caboverdiano? Parece-me, portanto, mais lógico esperar de um técnico – preferencialmente qualquer um ligado ao projecto ALUPEC – a explicação do rationale da escolha alfabética. Parece-me que os técnicos do ALUPEC optaram pela simplificação e padronização – passo fundamental para qualquer acção comunicativa escrita.
5. O Andrade ainda escreve que “[p]ara um aluno que irá aprender ALUPEC terá várias barreiras na aprendizagem do português, francês e inglês, uma vez que será consumido e atrapalhado pelas regras inventadas.” Tal causalidade, além de ser ridícula, carece de suporte empírico ou mesmo teórico. Gostaria de saber em que estudos empíricos baseou o Andrade para tal conclusão. Se não em empiricismo algum, que teoria epistemológica foi o autor basear? Mais ainda, tal proposição assume a fraca capacidade intelectual dos estudantes caboverdianos. Ou será que a mente do estudante caboverdiano é assim tão fraco, que não consegue adaptar às “novas regras”? Já agora, será que estes mesmo estudantes irão ter problemas com as “novas regras” do português, como acordado no Novo Acordo Ortográfico de 2005? (um simples parentêsis para alerter ao Andrade que tanto o francês como o Inglês -como qualquer outro idioma do mundo contemporâneo - constitutem uma sucessão de “novas” regras).
6. O ALUPEC, na acepção de Andrade, não passa mais do que uma “pedagogia do oprimido,” “[inventora] de uma lingua de escravos.” Tal afirmação além de ser imprecisa, é historicamente errada. O escravo que habitou as ilhas de Cabo Verde desenvolveu uma forma singular de comunicação oral, nunca, no entanto, desenvolvendo uma práctica escrita. Talvez o caracter pró-escravo que Andrade refere deve-se ao facto do ALUPEC ser baseado, em parte saliente-se, na construçã0 fonética de palavras. Ora, o ALUPEC é a fase mais recente de um processo de construção de língua escrita no pós-colonial, cujo o primeiro passo foi o conhecido Colóquio Linguístico de Mindelo de 1979. É sabido que neste ditto colóquio, dominou-se a perspectiva pró-fonémica. No entanto, a perspectiva pró-etimológica dominou o Forum Lingístico de 1989. O ALUPEC, criado em 1994, é a síntese dialéctica destas duas perspectivas de construções ortográficas (sobre o assunto vide Marlyse Baptista The Synthax of Cape Verdean Creole). Assim sendo, o ALUPEC não é a língua escrita da “senzala,” como entende o Andrade. E mais ainda pretende demonstrar a sua distância à língua de “casa grande.” No entanto, aceita como princípio básico, penso eu, a concordância comunicativa entre estas duas localidades históricas.
7. Talvez a intensão dos técnicos responsáveis pelo ALUPEC seja, como Nguigi wa Thiong’o, “descolinizar a mente,” por assumir com Fanon que uma língua Parte de tal estratégia implica a ascenção do crioulo em paridade com o português – ao invês da tradicional dicotomia entre “lingua nacional” e “lingua official” (sobre isso vide Batalha “The Politics of Cape Verdean Creole”; Dias “Língua e Poder: Transcrevendo a Questão Nacional”. É bem provável que o Colóquio Linguístico de Mindelo de 1979 tenha sido influenciado por um Pan-Africanismo radical. Afinal das contas o ambiente de então proporcionava tal ideologia. Mas depois do dito colóquio, outros encontros foram levados à cabo, resultando, como notado acima, na criação de ALUPEC em 1994.
8. É preciso ainda notar que o ALUPEC não é anti-português, como muitos assumem.A implementação de tal regra não significa que vamos ter que eliminar o português. O ALUPEC, julgo eu, ser um projecto para o futuro. Por isso, deve ocasionar entre nós uma certa confusão por estarmos habituados a uma certa maneira de escrever. O ALUPEC padroniza e sistematiza. Uma vez implementada, divulgada, socializada e internalizada pelas novas gerações (principalmente), as “novas regras” passarão ser simplesmente “regras.”
9. Afirma ainda o Andrade que “[s]istematizar o ensino a maneira do A,B,S será perigoso, porque trás [sic] na sua PEDAGOGIA DE OPRIMIDO um certo racismo africano, fenómeno altamente perturbador para uma nação mestiça.” Como argumentei acima o alfabeto não é mais do que um conjunto de símbolos com o objectivo de facilitar a comunicação. É preciso muito estudo antes de implementar um determinado alfabeto – como uma qualquer outra política pública. Mas, por outro lado, deve existir um argumento lógica e filologicamente válido da subtração do “C” do alfabeto da língua caboverdiana. Bem espero que os técnicos e estudiosos atrás do projecto de ALUPEC não tenhan criado tal sistema simplesmente por causa de “ briu di korpu,” fazendo uso de um cliché do crioulo caboverdiano. Antes de ser uma “pedagogia de oprimido,” como afirma Andrade baseando na célebre frase de Paulo Freire, o ALUPEC é antes de mais nada um instrumento contra o constante reprimir do crioulo caboverdiano – divulgado, por exemplo, em clichés como “kriolu kabuverdianu ka tén regra.” Pois é exactamente a imputação de regra (padronização) ao crioulo que é a função primária do ALUPEC.
10. O facto da nossa língua ser uma “herança” do português, não significa que não se pode fazer alterações ao alfabeto por nós herdado. A título de exemplo, tanto o espanhol (ou castelhano, como prefere alguns) como o alemão fazem uso do alfabeto latim. Mas nem por isso recusaram de fazer alterações (ou melhor, mais uma introdução que alteração própriamente dita), facilitanto a comunicação (No espanhol, o “Ñ” e no alemão o “β”). Mas nem por isso ouve-se dizer que o alfabeto espanhol ou o alemão é ( foi) em si uma revolta à hegemonia romana-latina. Mais ainda, Andrade parece conturbado porque, em acordância com o ALUPEC, a palavra “casa,” por exemplo, é escrito “kasa.” Uma vez mais, a escrita é uma simples convenção. Tanto o português como o espanhol herdaram do latim e herdam, como tal, um conjunto de vocábulos da língua que foi falada por Júlio César. Entre os vocábulos herdados encontra-se o pronome latin “quails.” Entretando, passando às duas línguas ibéricas, o Português optou por “qual” ao passo que o espanhol optou por “cual.” No caso português, a perspectiva dominante (pelo menos no exemplo acima) foi a pró-etimológica, ao passo que os castelhanos optaram pela perspectiva pró-fonémica.
Thursday, July 17, 2008
Debate Sobre a Identidade Caboverdeana
Nos últimos quinze anos, a questão da identidade nacional parece ocupar o centro de debates entre os caboverdianos. Tal debate foi ainda mais activada quando duas figuras da vida política Portuguesa (Adriano Moreira e Mário Soares) afirmaram sobre a não-Africanidade da identidade caboverdeana. Mais ainda, recentemente a União Europeia concedeu às ilhas de Cabo Verde estatuto de parceiro especial. Para certas camadas caboverdianas tal prova o reconhecimento europeu da europacidade caboverdeana.
O debate sobre a identidade centra geralmente em relação ao posicionamento cultural, político e até mesmo económico de Cabo Verde à África. Verifica-se, assim, um duplo posicionamento: não-pertença e pertença à Africa.
No que respeita o primeira ideologia identitária (não-pertença à África), é de notar que tal tem uma longa história, cujo o apogeu discursivo foi alcançado com os escritos dos dittos “Claridosos”, em particular, com o claridoso par excellence, Baltazar Lopes da Silva. Para certos grupos de indivíduos, Cabo Verde não é África e ponto final. Poderia ter sido num passado distante, mas já não é mais. Este argumento desdobra ainda em dois substractos: a) a não-Africanidade Caboverdeana é demonstrada pela condição cultural occidental dos caboverdeanos; b) Cabo Verde tem uma identidade única, singular e liberto de qualquer unidade cultural/civilizacional supranacional – em outras palavras, a identidade caboverdeana nem é Europeia e nem é Africana.
Para um outro grupo de caboverdeanos, a herança cultural africana ainda é marcante e vigente nas ilhas de Cabo Verde, ao contrário daquilo que se pensa. Ainda que certos pré-Claridosos, particularmente Pedro Cardoso, afirmar aqui e acolá, a Africanidade cultural dos caboverdeanos, a verdade é que o projecto Africanista é seriamente assumida pela “geração de Amilcar Cabral.” De ponto de vista político, a pertença de Cabo Verde à Africa foi encontrada na fórmula de unidade orgânica entre Cabo Verde e Guiné Bissau. Assim sendo, esta última é o elo que une Cabo Verde a África.
No que respeita ao debate contemporâneo nas ilhas sobre a identidade das mesmas, pode-se encontrar dois tipos daquilo que designo de identidadismo, ou seja, uma ideologia de construção identitária, sustentada, às vezes, por um discurso científico. Constata-se dois tipos de identidadismo:
a. identidadismo populista, marcante na mídia virtual, que abriu um novo conceito de esfera pública, de livre troca de ideias, informações e valores. O anonimato que tal esfera permite abriu as portas à participação de qualquer pessoa. O debate nesta esfera, no entanto, é mais sentimental que científico. A título de exemplo, o debate sobre os fundamentos da identidade caboverdeana, levado à cabo pelo jornal virtual, Liberal Cabo Verde, permitiu a participação de diferentes indivíduos. Contudo, o nível de debate ficou longe de suporte científico social – ainda houve quem refugiou nas filosofias de Hegel, Aristóteles, etc, para sustentar os argumentos. No entanto, ninguem se preocupou em definir o conceito de “identidade,” “creolidade,” “creolização,” ou outros conceitos pertinentes no debate identitário. Ainda mais ninguém deu-se ao trabalho de fazer uso das ideias cientifico-sociais sobre o tema.
b. Identidadismo acadêmico, trazido à baila por uma nova geração de académicos caboverdeanos que abordam profundamente o estudo da identidade caboverdeana – como são os casos de Gabriel Fernandes, Carlos dos Anjos, António Correia e Silva, entre outros. O ponto de distinção em relação ao identidadismo populista é exactamente o uso do discurso científico social no entendimento da realidade identitária caboverdeana.
O debate sobre a identidade centra geralmente em relação ao posicionamento cultural, político e até mesmo económico de Cabo Verde à África. Verifica-se, assim, um duplo posicionamento: não-pertença e pertença à Africa.
No que respeita o primeira ideologia identitária (não-pertença à África), é de notar que tal tem uma longa história, cujo o apogeu discursivo foi alcançado com os escritos dos dittos “Claridosos”, em particular, com o claridoso par excellence, Baltazar Lopes da Silva. Para certos grupos de indivíduos, Cabo Verde não é África e ponto final. Poderia ter sido num passado distante, mas já não é mais. Este argumento desdobra ainda em dois substractos: a) a não-Africanidade Caboverdeana é demonstrada pela condição cultural occidental dos caboverdeanos; b) Cabo Verde tem uma identidade única, singular e liberto de qualquer unidade cultural/civilizacional supranacional – em outras palavras, a identidade caboverdeana nem é Europeia e nem é Africana.
Para um outro grupo de caboverdeanos, a herança cultural africana ainda é marcante e vigente nas ilhas de Cabo Verde, ao contrário daquilo que se pensa. Ainda que certos pré-Claridosos, particularmente Pedro Cardoso, afirmar aqui e acolá, a Africanidade cultural dos caboverdeanos, a verdade é que o projecto Africanista é seriamente assumida pela “geração de Amilcar Cabral.” De ponto de vista político, a pertença de Cabo Verde à Africa foi encontrada na fórmula de unidade orgânica entre Cabo Verde e Guiné Bissau. Assim sendo, esta última é o elo que une Cabo Verde a África.
No que respeita ao debate contemporâneo nas ilhas sobre a identidade das mesmas, pode-se encontrar dois tipos daquilo que designo de identidadismo, ou seja, uma ideologia de construção identitária, sustentada, às vezes, por um discurso científico. Constata-se dois tipos de identidadismo:
a. identidadismo populista, marcante na mídia virtual, que abriu um novo conceito de esfera pública, de livre troca de ideias, informações e valores. O anonimato que tal esfera permite abriu as portas à participação de qualquer pessoa. O debate nesta esfera, no entanto, é mais sentimental que científico. A título de exemplo, o debate sobre os fundamentos da identidade caboverdeana, levado à cabo pelo jornal virtual, Liberal Cabo Verde, permitiu a participação de diferentes indivíduos. Contudo, o nível de debate ficou longe de suporte científico social – ainda houve quem refugiou nas filosofias de Hegel, Aristóteles, etc, para sustentar os argumentos. No entanto, ninguem se preocupou em definir o conceito de “identidade,” “creolidade,” “creolização,” ou outros conceitos pertinentes no debate identitário. Ainda mais ninguém deu-se ao trabalho de fazer uso das ideias cientifico-sociais sobre o tema.
b. Identidadismo acadêmico, trazido à baila por uma nova geração de académicos caboverdeanos que abordam profundamente o estudo da identidade caboverdeana – como são os casos de Gabriel Fernandes, Carlos dos Anjos, António Correia e Silva, entre outros. O ponto de distinção em relação ao identidadismo populista é exactamente o uso do discurso científico social no entendimento da realidade identitária caboverdeana.
Subscribe to:
Comments (Atom)